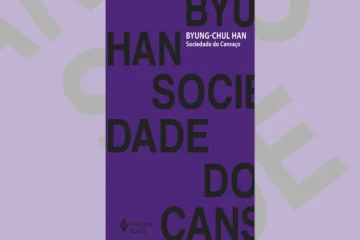‘Zé Arvi’, meu pai

Sol a pino. Parecia estar sempre no ponto mais alto do céu. De tão quente reluzia naquelas estradas de chão batido. Meu pai puxava a enxada, arruando o café frondoso, pés enormes, desgalhados. Apanhar os grãos maduros só com escadas. Assim eram os cafezais do norte do Paraná. Eu ia com minha mãe levar o almoço. A gente ficava esperando ele e meus irmãos concluírem a rua de café para almoçar.
Embaixo de alguma árvore eles se sentavam para a segunda refeição do dia. Minha mãe levava o que a gente chamava de “apartamento de marmitas”, uma em cima da outra, presas em um suporte de alumínio. O almoço era por volta das 9h30. Eles saíam de casa antes das 7 horas, portanto, era preciso forrar o estômago para aguentar até o café da tarde.
Analfabeto, meu pai nasceu e morreu na roça. Ali era doutor. Entendia tudo de agricultura. Naquele tempo, começo da década de 70, os recursos no campo eram precários. Raramente se falavam em agrônomos e veterinários. As coisas eram resolvidas pelos próprios roceiros.
Meu pai era uma espécie de faz tudo. Castrava e matava porcos para comer e tirar banha, decidia pela abertura de estradas rurais, olhava para o tempo e fazia sua previsão de chuva ou sol. Na família e até entre os vizinhos, a última palavra era a dele.
Por mais intrincado que fosse o problema ele apontava uma solução. A primeira atitude dele era acalmar a situação por mais grave que fosse. Em seguida apresentava uma saída. Ninguém contestava. Sempre certeira.
Uma vez, nossas casas ficavam no meio de um pasto. Ali moravam meu pai, meu irmão casado, minha irmã casada e alguns vizinhos. De madrugada, meu cunhado chegou apavorado em casa, guiado por uma lamparina.
Naquele tempo, muitos lugares da roça não tinham força elétrica, como se dizia. O povo usava a lamparina. Um recipiente de lata cheio de querosene, embebido por um chumaço de tecido. À noite era aceso para alumiar a casa e eventualmente o caminho que se seguia.
Ele veio desesperado atrás do meu pai porque entrara um pequeno besouro no ouvido da minha irmã. De lá de casa, a gente ouvia os gritos dela. Saímos todos atrás do pai, que foi à frente com outra lamparina. Chegamos, e ela estava desesperada. Meu pai pôs a lamparina perto do ouvido dela. Acalmou-a, olhou, olhou, apalpou com a ponta dos dedos e arrematou: “só doutor pra tirar, o bichinho tá muito fundo”.
“Amanhã com o dia escuro vou chamar o fulano (um vizinho que morava a alguns quilômetros e tinha um jipe) e levar ela pro doutor”, afirmou e, ao tomar o ar da varanda, concluiu: “Nunca se deve mexer dentro de ouvido, pode machucar e deixar a pessoa surda”. Ele pediu que fizessem uns chás para minha irmã, que ficou deitada. Com o dia escuro ele chegou com o fulano, de jipe.
Levaram-na ao doutor Wetter, assim conhecido. Do antigo Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Apucarana. Um médico alemão, que viera para o Brasil fugindo da perseguição nazista. Muito conhecido no norte do Paraná. Hábil no bisturi, dizem que salvara muitas vítimas de acidentes, que precisavam de complicadas intervenções cirúrgicas.
Menino, eu não largava da minha mãe. Ela foi com meu pai no jipe. Eu também. Minha irmã chegou ao hospital e já foi encaminhada ao médico. Aquele alemão tinha um sotaque carregado. Eu não entendia quase nada do que ele falava. Só entendi que ele elogiou meu pai por não mexer no ouvido da minha irmã. “O senhor é um homem sábio seu Zé”, disse com aqueles óculos pesados, mas era simpático.
Ele levou minha irmã a uma sala e logo voltou com o besouro morto na palma da mão. Havia tirado o bichinho que no meio da noite se escondera no ouvido dela. Daquele dia em diante, ela passou a dormir com um pano sobre os ouvidos, com medo que outro inseto repetisse a cena.
Na roça era assim. Era preciso coragem e atitude. Não havia recurso imediato. Meu pai, o saudoso José Alves de Oliveira, devoto de Nossa Senhora Aparecida, nascido em São José do Rio Pardo, no interior paulista, era uma espécie de sinônimo de socorro. Nos momentos difíceis nos dizia o que fazer. Com ele na retaguarda, a gente se sentia segura. Neste dia dedicado aos pais, boas lembranças do seu Zé “Arvi”, como ele era conhecido lá na roça.
(*) Donizete Oliveira, jornalista e historiador.