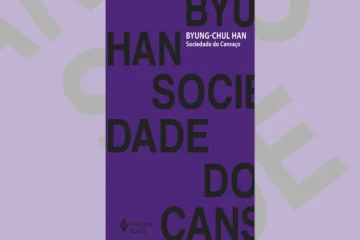Gente que pode

Uma mesa de toalha florida, comprida. Cadeiras brancas. Bules de café, leite e chá. Pratos de biscoitos, fatias de pão caseiro e um enorme pote de manteiga amarelada. Na cabeceira, um bolo de fubá numa travessa de alumínio. Daqueles caseiros. O cenário se passava na casa de um vizinho de roça. Ao contrário da minha família, ele era dono da propriedade. Portanto, no dizer da época carregava a alcunha de “gente que pode”.
Tanto que até podia oferecer um farto café às visitas. Eu sempre arrumava uma desculpa para ir até a casa dele nos fins de semana. Interessado na comilança. Meu pai não gostava. Para ele, o vizinho se fazia de soberbo ao receber as visitas com mesa farta. Quando ele ia lá, se servia de um gole de chá e uma lasquinha de pão, apenas. “Não fui lá pra comer nem estou morrendo de fome”. Redarguia.
Eu não estava nem aí. Comia à vontade sem se incomodar com os donos da casa. Nunca passamos fome, mas comíamos o básico para sobreviver. Arroz, feijão, verdura e vez ou outra carne de porco. De manhã, café, chá, leite e um pedaço de pão caseiro. Comida diferente só nas festas de fim de ano. Frango assado, carne de gado e macarrão com molho. Regado a guaraná. Para os adultos, também vinho. Guaraná, aliás, só mesmo no Natal e Ano Novo.
O mesmo vizinho das mesas fartas tinha um jipe da capota preta. Condução que lhe consolidava o status de “gente que pode”. Acima dos chamados meeiros, que dividiam a produção com o patrão. Nosso carro era uma carroça e dois burros. Usada para puxar café e cereais da roça à tulha e ao paiol e fazer compras na cidade. Meu irmão que ia. A parte mais difícil era correr atrás dos burros nos dias em que não estavam a fim de puxá-la.
“Gente que pode” também se distinguia pela roupa. O tal vizinho saía de jipe sempre bem trajado. Camisa de tergal, impecável. Calça do mesmo tecido. Sapatos pretos e meias cano longo. As quinas nas roupas denunciavam que haviam sido alisadas com o ferro de brasa. Eu ficava a imaginar se um dia teria um traje daquele. As compras de roupa eram uma vez por ano. Geralmente, após a colheita e venda do café.
O pai, a mãe e um irmão iam à cidade. Numa tradicional loja de tecido faziam o que o povo chamava de derrubada. Comprava roupa para a família inteira. O gerente lotava uma rural Willys. Entregar a compra na casa do freguês complementava a venda. A maior parte era para a lida diária. No máximo duas trocas para ir à missa, casamentos ou a alguma quermesse. Mais trocas só para “gente que pode”. Prevenia a mãe.
O vizinho dos comes fartos, por exemplo, a cada fim de semana ia à missa com uma camisa diferente. A gente se virava para satisfazer as vontades. Eu era chegado em picolés. Naquele tempo, a gente chamava de palito. Achei um filão para ganhar umas moedas. Minha mãe tinha um estoque de potes de vidro. De vez em quando, ela me dava alguns. Quando ia à cidade com o pai ou algum irmão os vendia a um húngaro. Dono de uma farmácia, ele falava assoprando. Após desinfetá-los, usava para guardar medicamentos manipulados.
As moedinhas rendiam alguns palitos redondos, enormes. Brancos e vermelhos. Aquelas geladeiras grandes empoeiradas. No cantinho da tampa havia teias de aranha. Uma ou outra barata corria por baixo e na lateral. A gente nem ligava. Saborear um palito era o ápice de uma vontade realizada. De “gente que pode”. Ao menos naquele momento eu experimentava.
Um dia minha irmã me levou à cidade e disse que ia comprar algo diferente. Falou que existia uma novidade, que se chamava “negute”. Termo que ela usou. A gente ia experimentá-la. Num bar, ela comprou dois copinhos. Adorei aquele leite grosso, adocicado. Conheci o iogurte. Mas ela avisou. Só hoje. É muito caro. Era mesmo. Para comprar outro copinho, passaram-se meses. Precisei vender muito vidro. Até render o suficiente de moedinhas.
Leite de pacote. Um dia meu irmão chegou da cidade com um pacotinho de leite embrulhado. Ficamos abismados com aquilo. Até um vizinho veio ver a novidade. Aquele bando de gente envolta para assistir à abertura do saquinho de leite. Minha mãe pegou uma xícara. Com o canivete, o pai cortou uma das pontinhas do pacote. Serviu-a. Ela enrugou a testa, fez eco e cuspiu. O leite azedara. Meu irmão andara quase a tarde toda com o pacote embaixo do braço. No sol.
Por muito tempo, o leite em saquinho ficou entre aqueles itens para “gente que pode”. Pagar uma fortuna nesse troço para azedar. Renegou meu pai. Meu irmão nunca mais quis saber da novidade. Mas leite a gente tinha. Uma vaca fornecia o precioso líquido, que eu bebia logo cedo, misturado a uma colher de cachaça.
Tempos que vivíamos numa espécie de equilíbrio entre aquilo que podíamos e aquilo que só era possível para “gente que pode”. Tais gentes viviam ali perto, mas ao mesmo tempo estavam no andar de cima. Pobres mortais. Éramos gentes que não podiam. Atentos aos causos do meu pai. Não raro, ele se referia a um fulano. Aquele. “Gente que pode”. Alertava.
(*) Donizete Oliveira, jornalista e historiador.
(Arte s/ foto do site Receita Toda Hora)