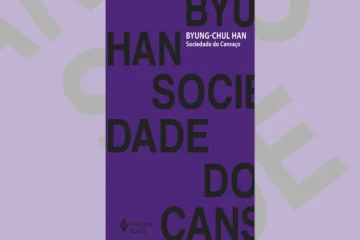A vida na roça era um constante fazer

Com uma pá de madeira, minha mãe mexia e remexia até dar o ponto. A fervura era num tacho. Soda. A pior parte. Vinha em saquinhos plásticos. Dissolvê-la à mistura. Perigo! Um dia aconteceu. Ventava muito. Uma lasquinha atingiu os olhos dela. Ela correu até uma bica de água nos fundos do terreiro e lavou os olhos por alguns minutos. Aquele afetado ficou vermelho, mas com os dias foi melhorando. Milagre de Santa Luzia. Bradava. Dizia que se apegara à santa protetora dos olhos, que a livrara de uma cegueira.
De gordura de porco ou abacate, o sabão que a gente usava era feito em casa. Após endurecer cortavam-se os pedaços e punha numa tábua para secar. Lisinhos. A gente tinha vontade de comer. Parecia doce de leite. Que também se fazia em casa. Não só. De figo, abóbora, banana, goiaba, mamão, cidra e casca de laranja. Uma laranja cascuda, azeda, própria para doce.
O fazer no sítio não provinha de receitas nem de manuais. A mãe passava para as filhas e assim por diante. Aprendia-se fazendo. O pai fazia o que ele chamava de xarope caseiro. Ao mel de abelha jataí, ele misturava casca de limão, alho e mais uns ingredientes que não lembro. Curtia por uns dias e bebia para limpar o peito. Eliminar aquelas pigarras teimosas.
Muito remédio caseiro. Tinha gente que recomendava até cocô de cachorro. Aqueles branquinhos secos. Diziam que o chá curava certos males. Nunca experimentei, mas garantiam que dava resultado. As garrafadas era praxe. Cada um tinha uma receita. Não raro, a gente ia à casa de um fulano e lá no armário estavam as tais garrafadas. Expostas. Prontas para serem recomendadas contra as doenças da vez.
Na roça, muitos arrancavam uma raiz que se chamava buta, cuja indicação parecia infinita. De picada de cobra a cólicas, diarreias e enxaquecas. Uma vez experimentei. Cuspi. Naquele tempo não era afeito a gosto amargo. Mas era muito usada. Havia um vizinho nosso que era especialista em arrancar buta. Ele cavoucava e a tirava inteira da terra.
Cada casa da roça era uma espécie de laboratório e fábrica. Quase tudo se produzia ali mesmo. Para dormir, colchões de palha. Minha mãe as separava. Tirava os nós que se formam nos pés das espigas. As colocava dentro do pano e costurava. O colchão estava pronto. Às vezes, escapavam alguns nós da palha e até sabugos que tiravam o sono. No meio da noite, era comum levantar e, com jeito, desviá-los para outra parte do colchão. As painas eram colhidas para encher travesseiros.
Rapadura. Meu pai fazia e cedia cana aos vizinhos, que também faziam. A gente tinha um vizinho, um baiano, que fazia tachos de rapadura. Ele ia mexendo o melado e contando causos. Até chegar ao ponto. Logo enxia as fôrmas de madeira. Depois tirava aqueles pedaços vistosos de rapadura. Adocicados e macios.
Vida na roça! Um constante fazer. Quase tudo era produzido ali mesmo no calor da hora. À cidade se ia uma ou duas vezes por mês para comprar apenas o essencial. Naquele tempo, quase que só açúcar, sal e querosene para as lamparinas. O resto a terra dava. Outro tanto era feito em casa com o que se extraía da natureza.
(*) Donizete Oliveira, jornalista e historiador
(Foto ilustrativa: Roberto Ferreira/Tripadvisor – colchão de palha do Museu de Antropologia da Fundação Caldas Junior, de Santo Antonio da Patrulha, RS)