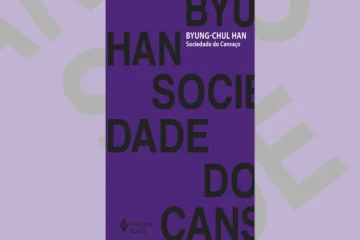A roça, o império e os sentidos de seus labirintos

Percurso rotineiro no norte paranaense. Da roça ao cinema. Aos domingos, ia eu ao Cine Ópera, ao Fênix, em Apucarana. Às vezes, ao Cine Mauá (foto), em Arapongas. Ou até a Maringá e Londrina. Quando moramos no oeste do estado, com meu irmão batia ponto no Cine Tapejara, na cidade do mesmo nome. Bangue-bangues, Tarzan, Zorro, Bruce Lee, Mazzaropi, Os Trapalhões, Godzilla, King Kong, O Gordo e o Magro, “Marcelinho Pão e Vinho”, “Menino da Porteira”. Matinês concorridas. Filas dobrando o quarteirão.
Mas tinha os filmes proibidos. Nem se podia falar deles. Os chamados pornográficos. De tão proibidos aguçavam nossa curiosidade. A gente dava um jeito de ver. Os amigos mais velhos vez ou outra nos levavam. Eles diziam ir a alguma festa. Vizinhos conhecidos. De confiança. Os pais liberavam. O destino era a sessão noturna de algum pornográfico.
Eu punha um chapéu preto. Sapatos de salto alto. Comum naquele tempo. O porteiro ou o “pegador de bilhete” não pedia documento. Ele decidia conforme a altura do sujeito. Às vezes, ele não percebia. Ou fazia vistas grossas. “A Dama do Lotação”, com a cativante Sônia Braga, foi uma febre. De esquentar mesmo. A temperatura corporal subia ao ver aquela morena seminua num enorme cartaz na porta do cinema.
A primeira vez que ouvi falar de “sexo explícito” foi com “O Império dos Sentidos”. Dirigido por Nagisa Oshima. Lançado em 1976, o império e os sentidos japoneses causaram frisson. Censurado. Liberado. No começo dos anos 1980 fez sucesso. As sessões se repetiam. Filas gigantescas. Polícia na frente das bilheterias. Menores barrados. Não faltavam senhores e senhoras esconjurando a película. Alguns, para não chamar atenção, iam vê-lo em cinemas de cidades vizinhas.
Uma tórrida relação oriental entre um patrão e sua empregada subia o tom do falatório. Conjunção carnal sem cortes. O filme japonês, no entanto, não é banal. Tem enredo. Mas, naquela época, na roça, quase ninguém sabia disso. O instigante era o proibido que se apresentava ali. Na telona.
Os comentários corriam. Nos programas de televisão e rádio. Nas vendas de beira de estrada. Em casa, o adjetivo mais nobre para se referir à fita japonesa era pouca vergonha. A cada dia batia mais vontade de ver o tal filme. Até que fui com uns amigos da roça à casa de parentes deles, numa cidade vizinha. Ao chegar lá, a fila em frente ao cinema quase abraçava o quarteirão.
Censura 18 anos. O cartaz estampado na porta do cinema que exibia o “império dos sentidos”. Mas o pessoal de lá conhecia o porteiro, que liberou minha entrada. Poltronas tomadas. Gente sentada no chão. Em pé. Um falatório ensurdecedor. As cortinas se abriram. Lances do Canal 100. Pedaços de filmes que seriam exibidos futuramente.
Até que a exibição se iniciou. Às primeiras cenas de sexo explícito se seguiu um silêncio. Que se assemelhava a um evento religioso. Não se ouvia um pio. Olhos fitados na telona. Casais abraçados feitos estátuas. Homens e mulheres lado a lado. Só o som do filme predominava.
Eu também emudeci. Os tais filmes pornográficos que via, mal mostravam nudez. Ali, não. O ato consumado. Em close. O que chamam hoje de sexo selvagem. Ninguém movia o pescoço. Talvez não tivesse coragem de olhar para o ocupante da poltrona ao lado. Eu sentia vergonha. Não sabia que uma relação sexual pudesse chegar a tanto.
Acabou a sessão. Só se ouvia o barulho dos calçados a tocar o piso de madeira do cinema. Na saída. Ninguém falava do filme. Entre nós também não se tocou no assunto. Parecia que a gente vira algo extraordinário. Deslumbrante. Fiquei encucado por uns dias. Era algo que não se podia perguntar. As informações eram precárias. Só com o tempo, compreendi um pouco mais o império e os sentidos dos seus labirintos.
(*) Donizete Oliveira, jornalista e historiador.
(Foto: Memórias de Arapongas)