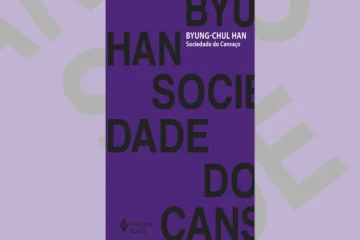Natal com guaraná, macarrão, carne e vassoura de guanxuma

Na roça, um pé-d’água abrandava o calor. Mas logo o sol tornava. Aquele clima dual. Era assim na proximidade do Natal e Ano Novo. Pelo menos, em Tapejara, no oeste do Paraná. A gente morava lá. Fazia muito calor entrecortado por um repentino aguaceiro.
A melhor fase do ano. Natal significava comilança. Três meses antes, meu pai vendia café e cereais e se preparava para a “grande compra”. Roupas e calçados para a família. Mas não parava aí. O melhor mesmo eram os componentes da festa. Os engradados de guaraná e os garrafões de vinho. Sobrava um bocadinho para Santos Reis. Em janeiro. Dia em que se desmonta a árvore de natal. Conforme a tradição.
Carne de porco e aves. De gado era raro. Mas vez ou outra tinha. Assada num forno de barro, onde a mãe assava pães. Ela punha fogo. Em seguida, varria com uma vassoura de guanxuma. No dia atribuído ao nascimento de Jesus, os comes e bebes faziam nossa alegria.
Na mesa, não tinha o trivial arroz e feijão. Nossa comida de todos os dias. Eu era vidrado em macarrão com queijo ralado. Só naquele dia, a gente comia. Guaraná, também. A gente furava a tampinha e degustava o líquido por ali.
Numa véspera de Natal eu fui com meu irmão a uma fazenda buscar um porco para assar. Os bichos estavam soltos. O dono da casa olhou e sinalizou: “aquele ali”. Mas faltava pegá-lo. A gente fora com um vizinho que tinha um jipe. Ele andava nos panos, como se dizia de quem se vestia bem. Sapatos engraxados, calça de tergal preta e camisa branca.
Meu irmão, o dono da casa e eu atrás do porco. Um corre, corre maluco. Cerca de lá. De cá. O porco nos driblava com facilidade. O vizinho motorista que nos levou resolveu ajudar. Meu irmão alertou: “vai sujar a roupa”. Ele: “liga, não, vamos pegar esse danado”.
Conseguimos encantoá-lo no fundo do mangueirão. Mas o porco, que parecia mesmo ter “espírito de porco”, fez que foi pra lá. O vizinho motorista foi junto, mas o bicho voltou. Ele escorregou e caiu. Bateu as costas no chão úmido. Ficou aquela mancha preta na camisa branca. Sinal do lodo do terreno.
O porco continuou a correr. Escapou do mangueirão. Desanimado, o dono dele, ofereceu outro ao meu irmão, que eles já tinham matado. Levamos aquele. O motorista se lavou numa bica. Prevenido, ele vestiu outra camisa que levara no jipe. Limpou os sapatos. Colocamos as bandas de carne no jipe e partimos.
Carne que nunca comi. Minha mãe a fritava num tacho de cobre enorme. No meio do quintal. Meus irmãos o cercavam para filar um pedaço enquanto a carne derretia na gordura fervente. Eu preferia verduras e macarrão. Era doido por aqueles tomatinhos que nasciam a esmo no meio do cafezal. A mãe os dissecava e fazia um molho delicioso. A gente comia com pão caseiro assado no forno de barro.
Sardinhas enlatadas também. A tradicional. Coqueiro. Minha felicidade. Meu pai comprava várias latas para as festas de fim e entrada de ano. Peixe sempre fez parte do meu cardápio. Até hoje. Um dia quem sabe, em respeito aos animais, também não a comerei.
Após o Natal, o Ano Novo e o Santo Reis, o ano começava. Meu pai e meus irmãos se firmavam no eito da roça. De sol a sol. A gente torcia para que a Páscoa chegasse. Dali a pouco, as Festas Juninas. No começo dos anos 1970, moramos na roça, em Califórnia. Uma cidade cortada pela rodovia, BR-376, que leva a Curitiba. Ali, tinha a família dos Pedro, que promovia uma bela Festa Junina. Mas aí é outro causo.
Como diria Drummond: “Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons”. Não é meu caso. Naquela época, a gente não comia bombom. Nossa felicidade era o Natal. Com guaraná, macarrão e carne.
A mãe a varrer o forno com vassoura de guanxuma.
(*) (Donizete Oliveira, jornalista, historiador