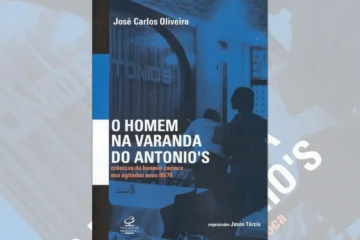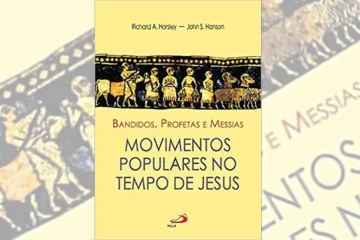Nossos patrões na roça

As cigarras emitiam um zumbido incessante. Tanta cantoria que eu grudava os olhos nas árvores. Tentando vê-las. Mas nada via. Só o canto a reverberar nos meus ouvidos. Às vezes, conseguia pegar uma ou outra nos galhos de café. Naquele sol abafadiço, ele vinha. Camisa de mangas compridas, arregaçadas até o cotovelo. Cabelos penteados. Bota de couro. No braço, um relógio Oriente. Se gabava de não precisar dar corda. Basta chacoalhar o braço. Gesticulava.
Que luxo! Só o patrão podia ter. Ele era descendente de espanhol. Miserável. Andava sempre com a mesma roupa. As laranjas do sítio, ele não gostava que as apanhassem. Meu pai era meeiro. Tocava café, como se dizia. Também cuidava do pomar. Na época das laranjas, aparecia um homem cabeludo com um caminhão. Para comprá-las. Meu pai vendia, mas o dinheiro era do patrão.
Um dos muitos que tivemos. Não considero nenhum deles justo com os empregados. Exploravam demais. Meu pai e meus irmãos trabalhavam muito. A roça sempre limpa. Mas o patrão queria mais. Nunca estava bom. No fim do ano, a gente recebia a parte do café. Muitas vezes, meu pai ia atrás de outra colocação. Em busca de algo melhor. Que nunca vinha.
No oeste do Paraná, nosso patrão era um descendente de italiano. Naquela terra de areia, o mote também era o café. A gente ia à cidade a pé. Se precisasse sair no meio de semana e o topasse pelo caminho, não ficava sem indagar. Queria saber por que não estava trabalhando. Vez ou outra saíam uns arranca-rabos.
Meu pai obedecia, mas não gostava de ser afrontado. Uma vez, o patrão descendente de italiano, quis saber por que ele deixou de carpir roça para roçar pasto. Ele respondeu: “seu fulano: falar sem pensar é atirar sem apontar.” Duas vacas nossas tinham criado. A demanda por comida crescia. Precisava cortar o mato para o capim crescer. “O senhor não quer que meu gado morra à mingua”? Indagou. Ele baixou a cabeça e foi embora.
Outro patrão nosso. Um português. Pavio curto. Andava com uma foice nas costas. O povo dizia que era cortador de cabeça. Um empregado dele, que chamavam de Sergipano, vivia a passar na porta de casa com um balaio cheio de estrumes de galinha e gado. Aos sábados, minha mãe lavava a calçada, e vinha ele derrubando sujeira. Entrevero certo.
O português era uma espécie de sentinela pelo sítio. De foice nas costas saía pelos cafezais. Um bando de cachorro atrás. Inquiria se visse algum empregado a vagar. Pés de fruta ele espreitava. Tinha um de manga. Frondoso, redondo. Eu, criança, tinha gana pelas mangas avermelhadas. Mas apanhar alguma só longe dos olhos do patrão.
Nossa vida na roça. Um colecionar de patrões. Três anos aqui; quatro acolá. Eles não mudavam muito. Enxergavam o lucro. Deles. Meu pai e meus irmãos apostavam nas colheitas do café. Sem geada pingavam uns trocados. Mas no Paraná, muitas vezes, o frio interrompia nossos planos.
Vida que seguia. No dizer de “Espinheira”, na voz de Duduca e Dalvam: “Eta, espinheira danada/Que o pobre atravessa pra sobreviver/Vive com a carga nas costas/E as dores que sente não pode dizer”…
(*) Donizete Oliveira, jornalista e historiador.
(Foto: Jaelson Lucas)