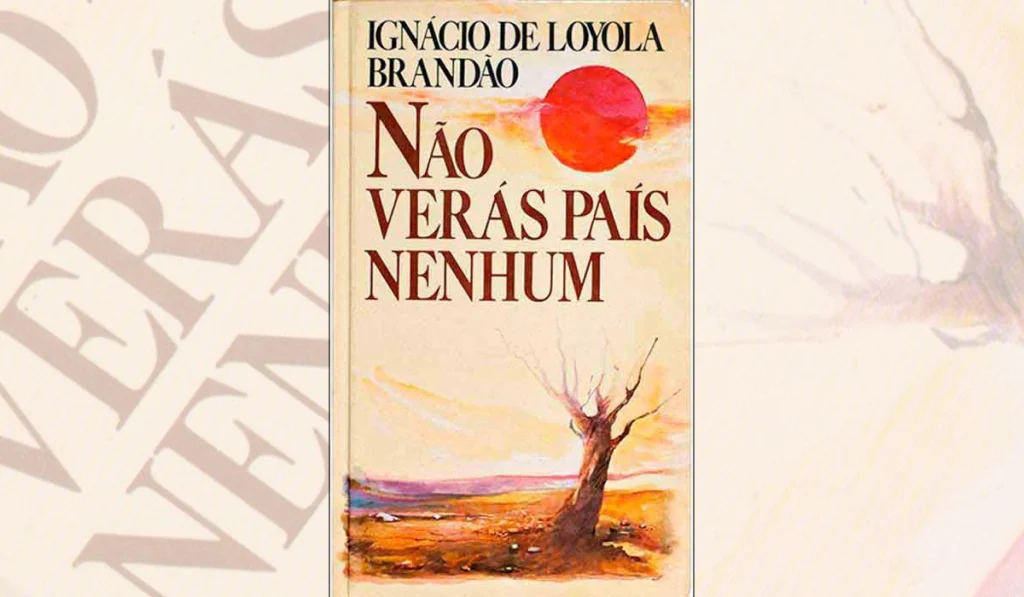Loyola aborda o “alumiar de uma nova era” e o que virá depois. Um mundo cheio de novidades, mas instável
“Compra um carro, tio. O carro é que traz liberdade. Fazer o que quer, na hora em que você quer. Tem coisa melhor?” Pergunta do sobrinho ao tio, Souza, personagem narrador do romance “Não verás país nenhum”. Uma distopia brasileira, de Ignácio de Loyola Brandão. Lançado em 1981, é um livro denso, repleto de coisas atuais. Naquele ano, a ditadura civil/militar agonizava. Saíamos de um período turvo para adentrar aos anos em que os ventos democráticos começavam a soprar.
Mas nada muda assim, de chofre. A democracia engatinhava. Rumo à anunciada nova era. Mas uma incerteza pairava. Mais gente, mais demanda pública. Sem a contrapartida, impostos e eficiência estatal. A receita neoliberal se apresentava. Ronald Reagan e Margareth Thatcher, exemplos. O fim do Estado, o fim da História, enfim, anunciavam-se um fim e um recomeço.
Loyola aborda esse “alumiar de uma nova era” e o que virá depois. Um mundo cheio de novidades, mas instável. As ruas abarrotadas de carro e pedestres. A violência. Pés fora do portão de casa, cuidado! Mesmo com limites. Não se pode sair por aí a andar sem destino. As cidades foram divididas e, cada um precisa de autorização para circular em determinadas áreas urbanas. Faltam água, energia elétrica e calor humano. Ninguém tem tempo a perder. Gente que chega, gente que vai.
Estranhas doenças surgem. Souza, o protagonista narrador se espanta com um furo na mão. De repente, pessoas aparecem com as mãos furadas. Ninguém sabe o que é. Talvez, efeito dos alimentos. Quase tudo se produz artificialmente. A água reciclada. De urina. Os milhões de litro de mijos aproveitados. Hoje, se diz água de esgoto, mas é a mesma coisa. Carne de plástico. Ou algo parecido. Mastiga-se. Sabor quase idêntico. Num mundo em que tudo é aproximado do original, a natureza pode se vingar. Calor infernal. De fritar ovo no asfalto, diriam os transeuntes.
As pessoas aprisionadas se amontoam embaixo de uma grande marquise. Disputam-se água. Quentura insuportável emerge do solo de concreto. Mas não é para menos, a Amazônia virou um imenso deserto. O governo comemora. “Temos um deserto maior que o Saara!”. Uma porta para o turismo. Tudo deve gerar lucro. Lazer gera empreendedorismo, empregos e negócios. Nada de devaneios. Ciência, proibida; jornais também. Povo informado é povo rebelde.
A polícia se transformou nos Civiltares, com maiúscula. De olho nos malfeitores, mas confiantes nas regras impostas pelo Estado. Burlá-las é o fim da linha. A não ser que o burlador tenha dinheiro. Muita gente pra muita demanda, mas pouca qualificação. Tudo sincronizado com o todo. Ninguém se atreva a ser ovelha de outra cor. Branca é branca. Souza repete o que ouvira: “Segunda é dia obrigatório de compras. O povo deve consumir, para que as fábricas possam fabricar e não haja a insidiosa recessão”.
Souza, pobre Souza. Até a mulher o abandonou. Adelaide trancou a casa e partiu. Ele, um ex-professor de História, tenta sobreviver em meio a uma espécie de sinal imaginário que demarca o “novo mundo”. O sol a pino reflete nas ruas e avenidas. Um outdoor estampa em letras garrafais: “O trabalho liberta”. Os ratos passeiam junto aos pés de ávidos transeuntes. Todos querem chegar, sem saber bem a que lugar. Mas o destino já não importa. Também pudera! “Não verás país nenhum”. Ou melhor: não restarás mundo nenhum!