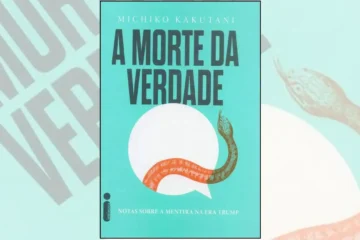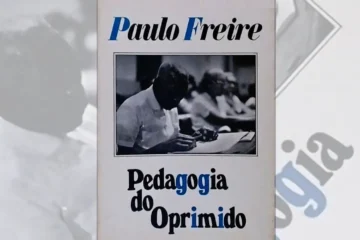A deusa chuva

Ao longe, ouvia-se o barulho. Horizonte escuro. A chuva caía em meio às plantações. A gente corria, mas os pingos eram mais rápidos. Abrigar em algum rancho de sapé era a solução, mas a roupa já estava molhada. Os pés enlameados. “Veio mansa”, dizia minha mãe. Tomar uma chuva no lombo era corriqueiro. “Chuva e sol, casamento de espanhol”, cantava a Francisca, que a gente chamava de dona Chica. Uma mineira, vizinha do nosso sítio.
Na falta de um rancho, o abrigo era os pés de café, aqueles ramalhudos, parecidos com árvores, tamanho os galhos. Os grãos eram colhidos na escada. Nas épocas de colheitas, o pai fazia algumas delas, que levavam para a lavoura de café. Mas tomar aquela chuva era uma dádiva, refrescava o calor. Na toada do espanhol dito pela dona Chica, dali a pouco o sol estava de volta. “Chuva de manga”, respondia o pai, repentina, de curta duração.
O bom era apanhar melancia na rama. Com a chuva, parece que elas ficavam mais viçosas no meio cafezal. Vermelhas, brancas e amarelas. Uma mais doce que a outra. A gente não plantava, nasciam a esmo nas ruas de café. De vez em quando aparecia alguém com um saco coronel nas costas. Ladrão de melancia, sentenciava o pai. O mamão amarelo derretia nos pés para alegria dos sabiás e sanhaços, que faziam um buraco na fruta e a devoravam só com o rabinho de fora.
Chuva na roça era uma festa que se repetia. Muitas vezes, o pai levava uma lona enorme e a estendia entre pés de café. O aguaceiro formava uma poça no meio. Para mim, que ia com a mãe levar o almoço ou o café, aquilo era motivo de júbilo. A gente pendia a lona para ver a bica de água escorrer feito uma cachoeira. Não raro, no abrigo da chuva, aparecia alguma cobra verde no meio dos galhos de café; no chão, a perigosa jararaca se camuflava no chão, nas folhas secas.
Aranhas também surgiam do nada. Caranguejeiras e armadeiras, enormes, mas ficavam lá, só não importunar. Uma vez, um cachorro nosso, o leão, cismou de acuar uma jararaca. Meu irmão não viu, e ele tentou abocanhá-la, para se defender, ela deu um bote, acertando-lhe o olho esquerdo. Quase morreu. Após dias de remédio caseiro, à base de querosene, que um vizinho ensinou, currou-se, mas ficou cego. Por causa daquele olho, que ficou cinza, passamos a chamá-lo de pirata. O defeito visual não o impedia de fazer o que mais gostava: caçar preás no meio das taboas.
Vez ou outra, a mãe ia com um saco apanhar taboas para encher travesseiros. O pirata ia junto e logo levantava uma caça. Mesmo com um olho não perdia a preá. A chuva pesada que caía fazia a água subir. O pai vinha embora da roça e aproveitava para pescar traíra numas poças que se formavam quase debaixo das nossas janelas. Não sei como aqueles peixes apareciam lá, parece que surgiam do barro. A água subia, eles flutuavam. Um pedaço de toucinho no anzol era fisgada certa.
Chuva trazia fartura. O almeirão roxo crescia no meio do café. A mãe enchia o avental de folhas. Recheio de bolinhos. Ela fazia a massa e fritava. Mistura para comer na semana. Se os pingos que caíam do céu impedia o trabalho na roça, de outro lado, nos dava de comer. Aos animais também. A beldroega ficava viçosa no meio do café. O pai catava para dar às vacas com capim gordura, que viceja na beira da estrada.
Faz sentido os índios adorarem o Sol como um deus. Quem morava na roça tinha de contar com a natureza. A vida era um ciclo do qual a gente necessitava de cada etapa. A chuva, portanto, era uma deusa, a deusa chuva. Uma dádiva que revitalizava as plantações e aos que delas dependiam.
(*) Donizete Oliveira, jornalista e historiador. Confira outras reportagens no site O Repórter Andarilho.
Foto: Darius Krause