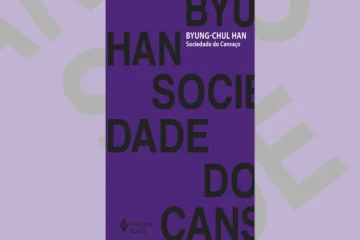Afeto e desafetos
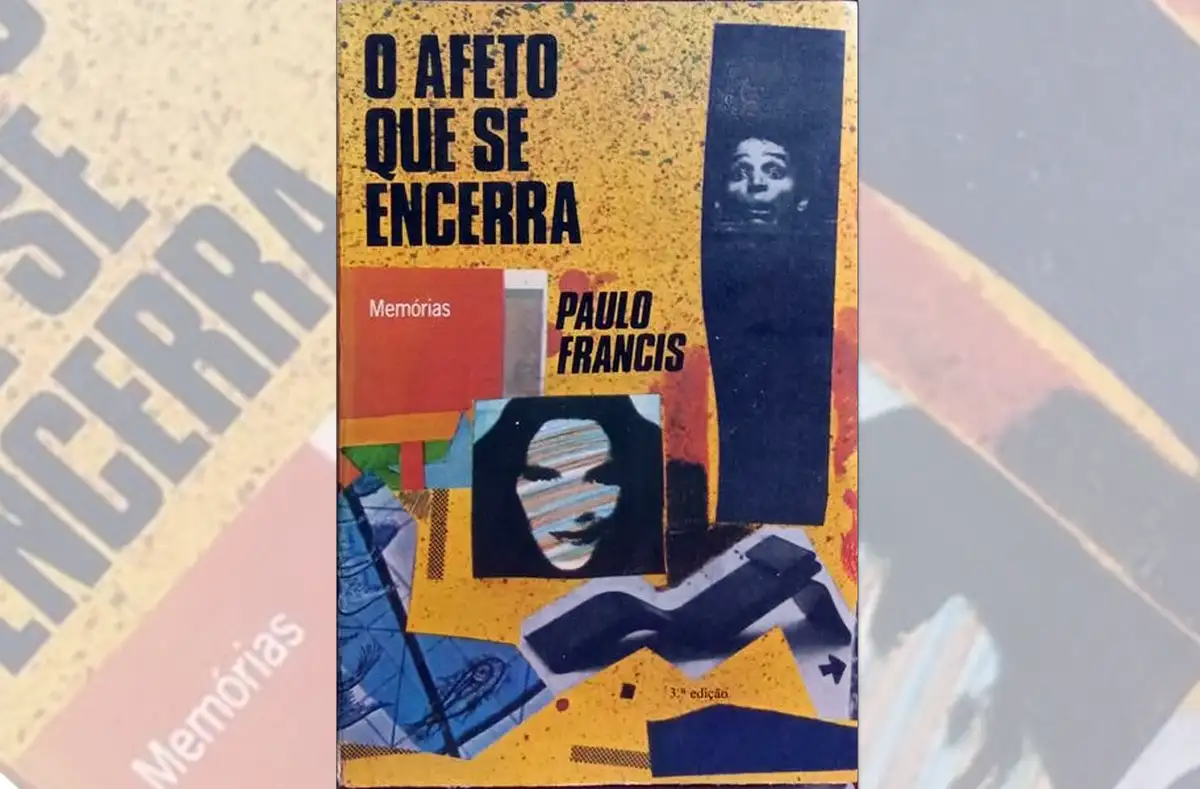

É daqueles livros surpresas. Em cada página uma novidade anunciada na anterior
“Este livro não é uma autobiografia. Contém passagens autobiográficas. Não é estudo ou reminiscência, de um período histórico. É memória seletiva. E se toco minha trombeta, verão que nem sempre os sons são harmônicos. Fi-lo porque qui-lo”. Diz Paulo Francis nas primeiras linhas de “O afeto que se encerra”. Mas poderia ser uma autobiografia. Ele nos apresenta um apanhado de uma vida atribulada, cheia de altos e baixos, mas de muito aprendizado. Conta que quisera ser escritor desde que lera “Crime e Castigo”, aos 14 anos de idade. E foi. Deixou dois romances. “Cabeça de papel” e “Cabeça de negro”.
Em “O afeto que se encerra” Francis fala de muita coisa. Dos livros que leu, não leu, dos amigos, inimigos, da família, das peripécias da adolescência, teatro, cinema, entre outros. Inclusive dos “professores” que lhe ensinaram os primeiros passos no jornalismo. Um deles é Carlos Castelo Branco, o lendário Castelinho. Na Tribuna da Imprensa, ele corrigiu um artigo de Francis, que havia usado a expressão “via de regra”. Antes de o texto chegar à composição, Castelinho puxou um traço à margem e escreveu “é buceta?”. “É a primeira vez que escrevo ‘via de regra’ desde 1957”, afirma Francis no livro lançado em 1980.
Aprendeu que deveria sepultar os chavões de gosto duvidoso. Com o tempo, se tornou um grande jornalista, com participações diárias de Nova York. Nas páginas da Folha de S. Paulo e, mais tarde, em o Estado de São Paulo. Na televisão também. Na Rede Globo e no canal por assinatura GNT. Nascido numa família abastada, logo quis conquistar independência, ao menos intelectual. Ingressou numa companhia de teatro onde aprendeu os primeiros passos na lida com o público. Viajou pelo Brasil, conheceu gente interessante. E aprendeu que jornalismo se faz com um pouco de tudo e muita leitura.
Leitor voraz, devorou tudo que podia. “O afeto que se encerra” é o prenúncio de suas crônicas. Fala de quase tudo. Um texto salpicado de citações. De gente que eu nunca ouvira falar e de famosos esquecidos. Diz que em Nova York encontrou relativa paz de espírito. Preso por sete meses na ditadura civil/militar, resolveu zarpar. Viveu na corte, como ele se referia aos Estados Unidos, do início da década de 1970 a 1997, quando um infarto lhe tirou a vida. Que foi intensa. Dizer que foi polêmico é cair no lugar comum. Francis enfrentava tudo aquilo que não lhe agradava. Dizer o que pensava lhe rendeu alguns pesados processos judiciais.
As 177 páginas de “O afeto”, a gente lê em poucas sentadas. É daqueles livros surpresas. Em cada página uma novidade anunciada na anterior. Estratégia que revela o estofo cultural do autor. Vale a pena lê-lo ou revisitá-lo. É a história do Brasil que ali se descortina. Em cada personagem, cada cena e cada investida de Francis surgem encruzilhadas que revelam novos caminhos. Cada um deles leva a diferentes descobertas, pedaços que, juntados, constroem novas visões de determinados períodos da história brasileira. Um autodidata, que se deu bem na “escola da vida”.
Francis não cursou nenhuma faculdade, mas o crítico Eric Bentley o aceitou num mestrado, na Universidade de Columbia, em Nova York. Casado com a jornalista Sônia Nolasco, não tinha filhos. Repetia a famosa frase de Machado de Assis, em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”: “Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria”. Um livro de afetos, sem poupar desafetos.